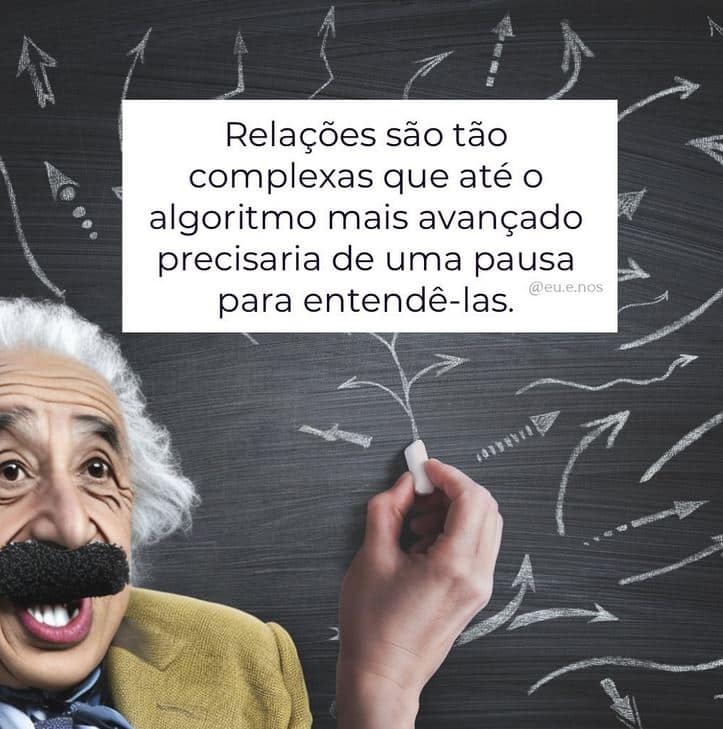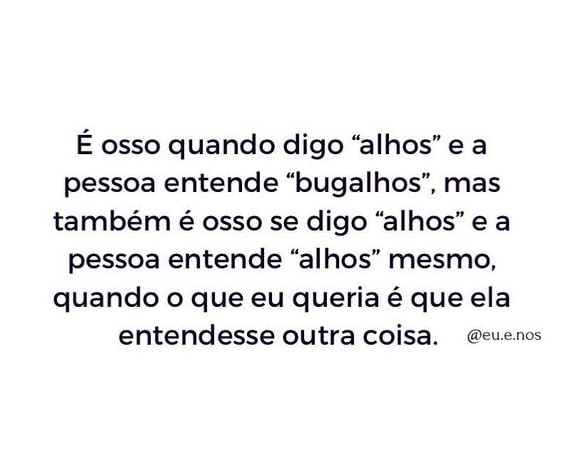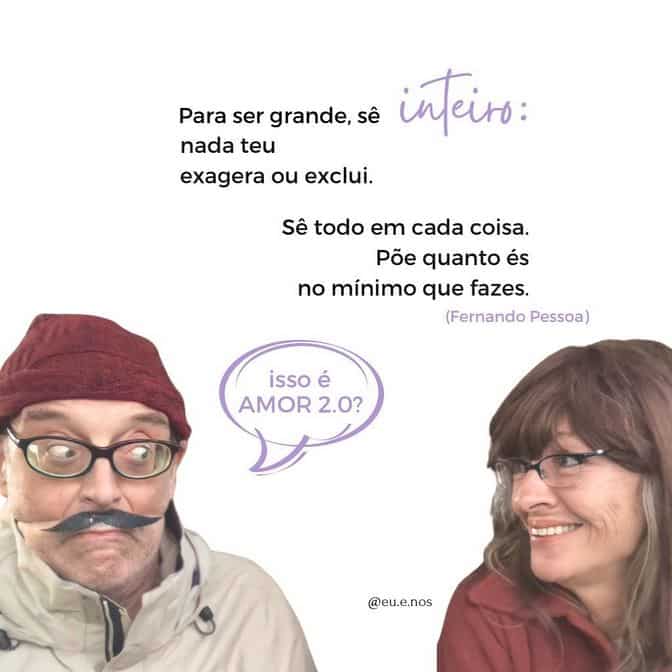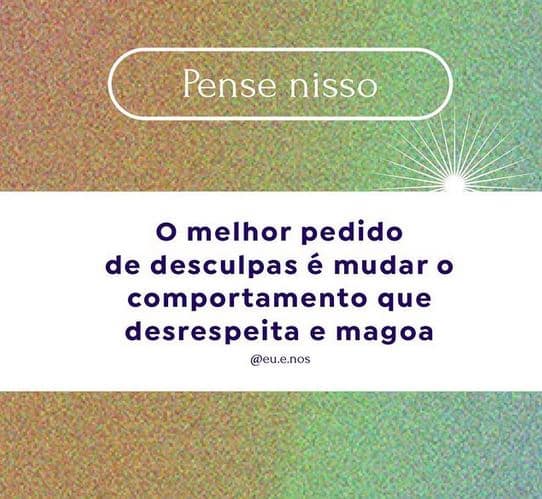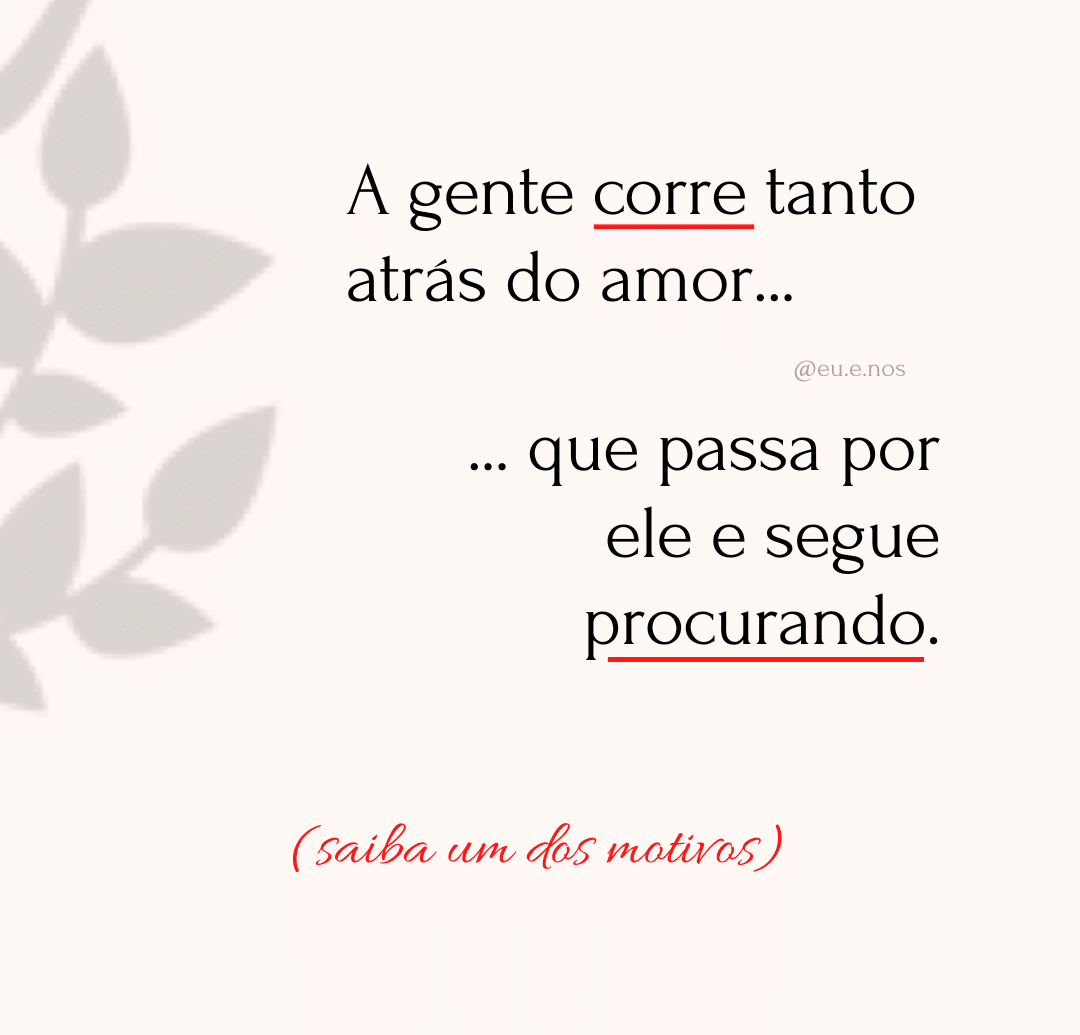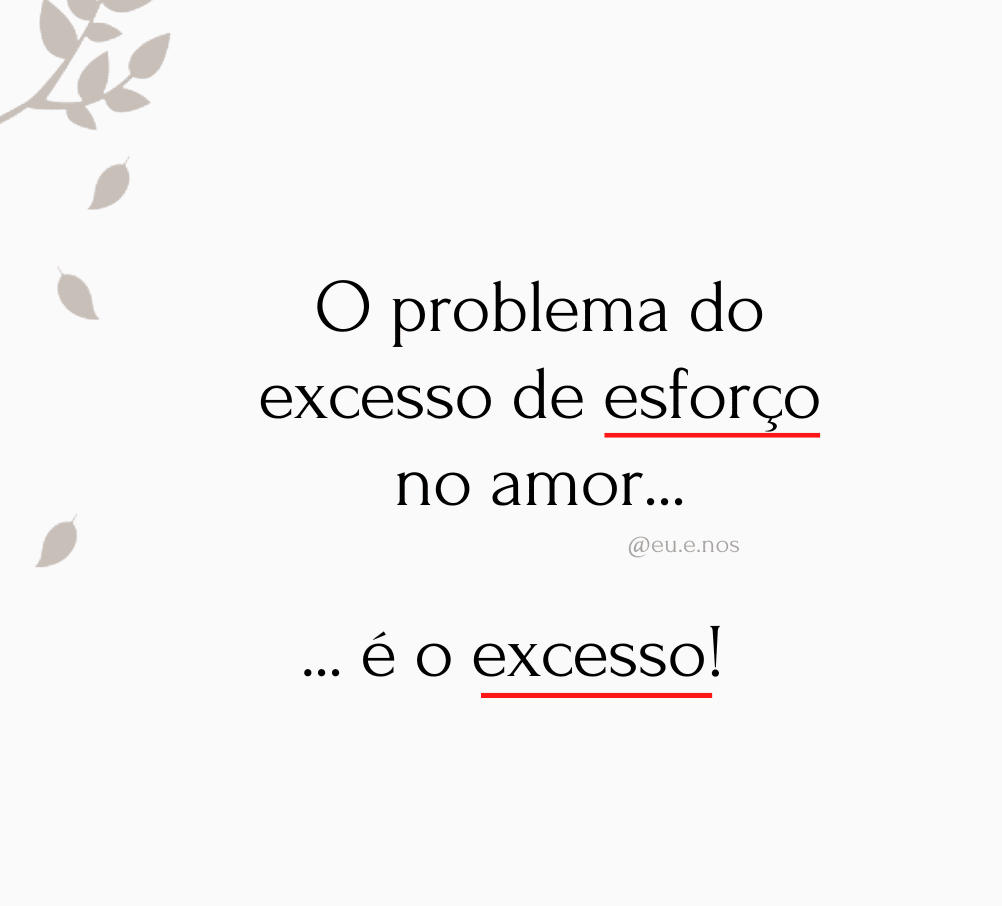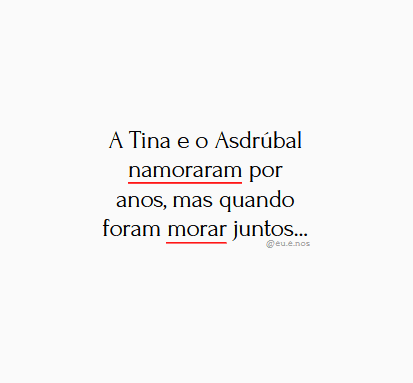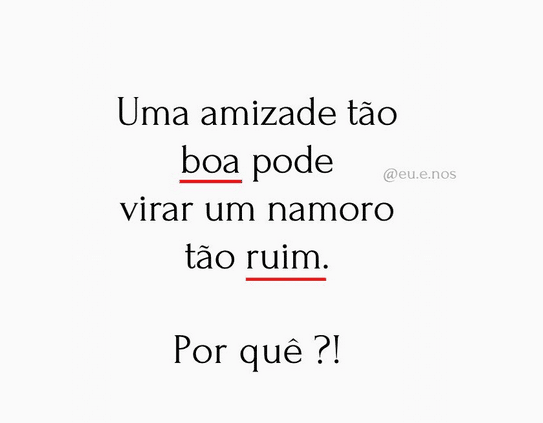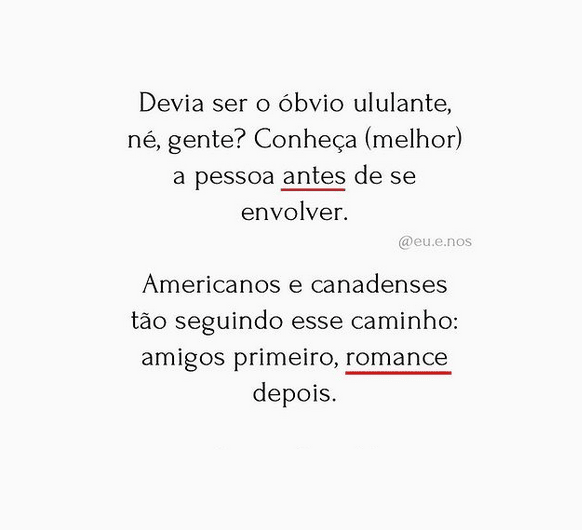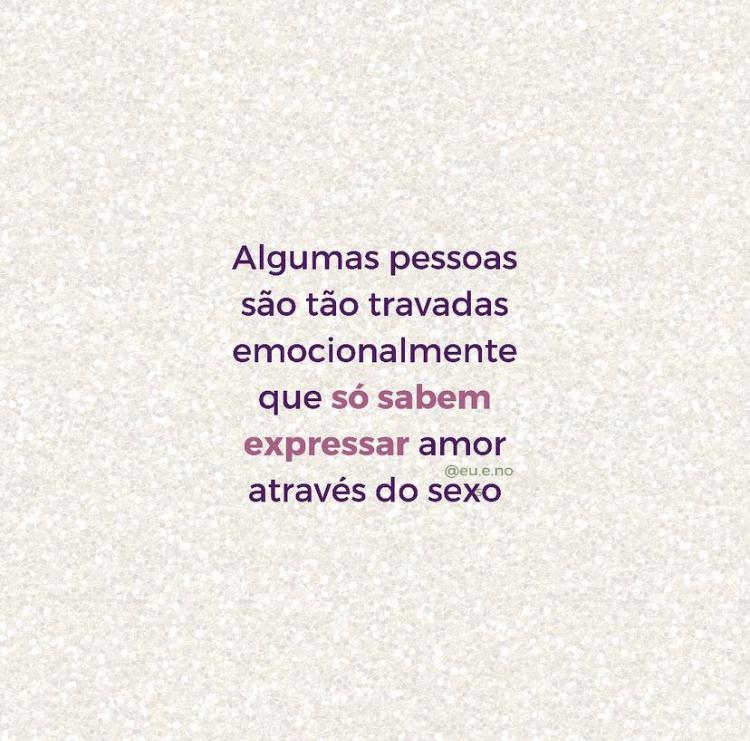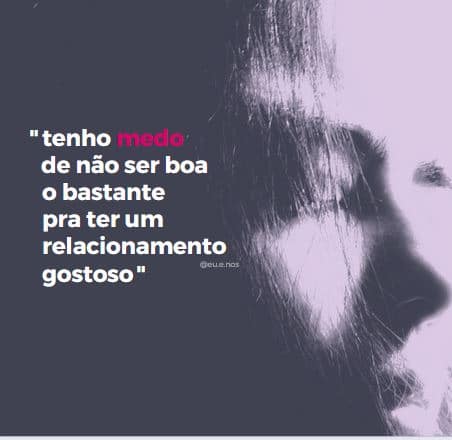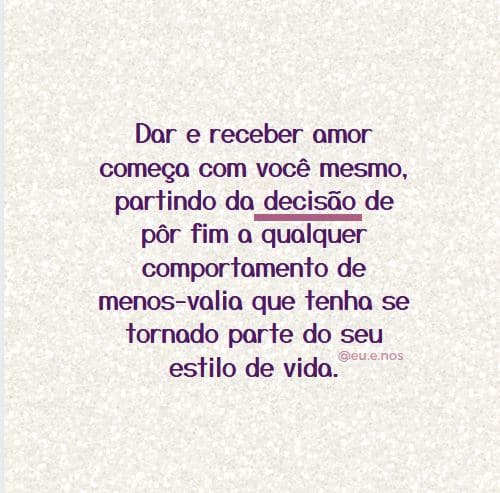Assim que botei a cara no mundo fui transferida de malinha e cuiazinha pra casa duma babá alemã porque minha mãe adoeceu. Foram 8 meses de leite em pó, assepsia máxima e pouco colo (“côlo demais estrrraga!”, ela dizia). Eu dividia o cercadinho com outro bebê – dois toquinhos que chupavam o dedinho um do outro, se virando como dava. Dos 6 aos 10 quem cuidou de mim foi a Ruth, que trabalhava lá em casa.
Eu via minha ocupadíssima mãe só de raspão. Fiz o 1º grau num colégio interno e em janeiro e julho era despachada pra uma colônia de férias – Pumas, Paiol Grande, Peraltas, conheci todas… Sabe aquela história de criar os filhos pro mundo? Minha mãe levou isso ao pé da letra e eu cresci com a sensação esquisita de ser filha do mundo e não de alguém. Foi barra. Anos de terapia depois, a “tadinha de mim” ainda dava as cartas aqui dentro.
O lado bom desse filme de Sessão Coruja à meia-noite na floresta interior da Bruxa de Blair é que não tive escolha: ergui as Armas de Jorge contra meus medos, tristezas, desertos e fui aprendendo a estar incondicionalmente a meu lado, como se fosse minha própria mãe. Isso dá força e dá fé. Porque ao final das contas esse é um aprendizado que todos teremos mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo, melhor (ok, não precisava ter sido tão cedo assim…).
Mas eu não tinha percebido isso até conhecer a história de C. (não confundir com a história de Ó.)
C. nasceu com o c virado pro sol. Infância perfeita, família todos-se-adoram, casa com cheiro de bolo da vovó, férias na fazenda, natais de cartão postal, tudo Sessão da Tarde. Até os 25 anos, quando ele casou, mudou de cidade, teve filhos, virou homem. Pelo menos na aparência.
Por dentro, C. continuou um menininho com cheiro de bolo que lamentava o passar do tempo. E tudo virou nostalgia, que virou angústia, memória rangendo os dentes. Dividido entre o agora e o ontem, ele se esforçava para ir bem na prova do ser adulto, mas no fundo sonhava em largar mulher, filho, emprego, cidade, idade, pra ser de novo menino.
Seu futuro era o passado. Como se caminhar para a frente o levasse, passo a passo, para trás até aquela tarde em que a mãe o perdoou por uma molecagem ou aquele Natal em que ganhou um autorama do Papai Noel ou aquelas férias intermináveis em que os primos foram pra fazenda.
Conheci C. sem emprego e chapado, numa fase em que a angústia já tinha virado bebida e cocaína. E foi com um brilho de coisas distantes nos olhos que ele me contou isso tudo. Eu não sei como C. está hoje, nunca mais o vi. Mas naquela noite a “tadinha de mim” foi deslocada 90º.
A história de C. mudou o ponto de vista sobre minha própria história.
Como pode uma infância perfeita deixar o cara fodido assim, cheio de efeitos colaterais?
Não que eu duvidasse da história, mas ela balançou os velhos argumentos da “tadinha de mim” – finalmente. Até ali, na minha cabeça de 20 e poucos anos, ruim era ter uma infância “cadê-mamãe”. Mas se a dele foi “tudo eba” e deu nisso, a conta não fechava.
Então entendi que eu e o C. tínhamos em comum a prisão num tempo que já foi e não volta. Eu fugindo do passado, ele tentando voltar pra lá. Esse era o problema. Não vem ao caso se esse passado foi alegre ou triste. Permanecer nele – tenha ele a cara da infância ou de qualquer coisa ou pessoa que já se foi – é como atravessar o rio deixando a cabeça na outra margem.
Corpo de um lado, no aqui e agora, pensamentos de outro, matutando sobre coisas que não existem mais. Eis o xis da questão: o que você faz com a sua vida agora. Já. Neste momento.
Como é só no presente que a vida acontece (perdoe o clichê), melhor assobiar e chamar a cabeça de volta. Fique neste corpo, cabeça, aqui é seu lugar.